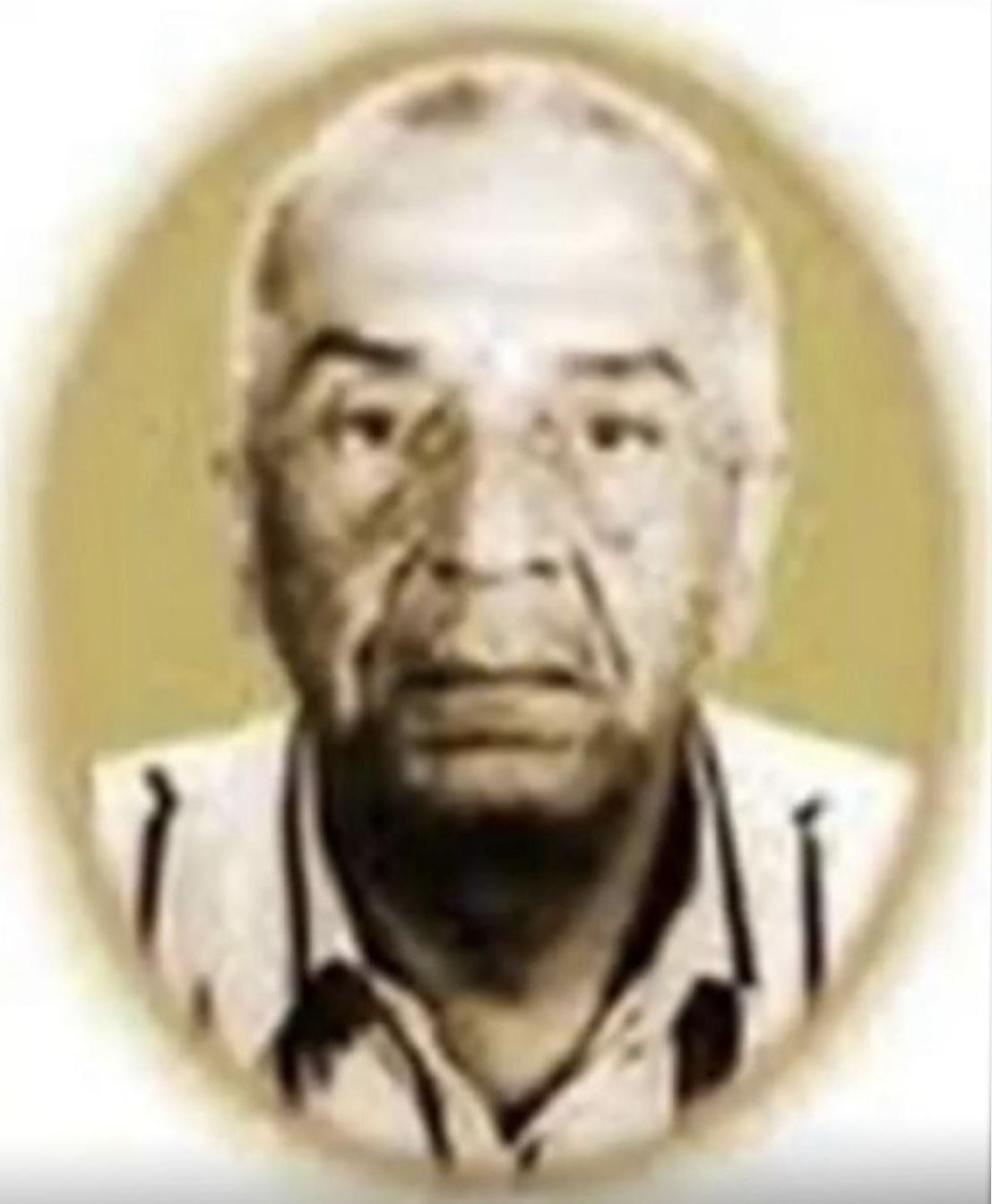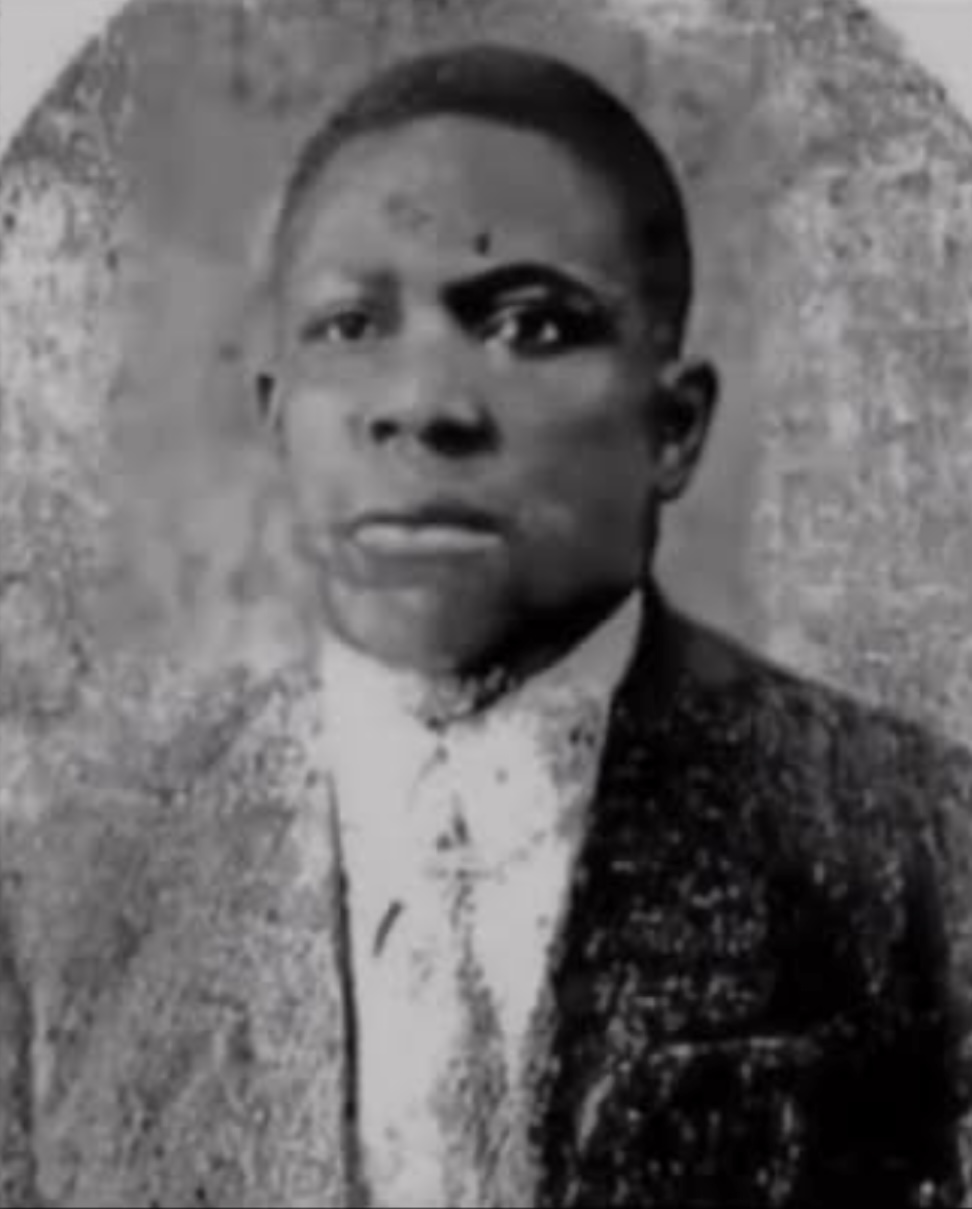As raízes do Batuque remontam ao século XIX, nas cidades de Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre, na forma como foi sendo configurado na transmissão de seus cultos a orixás, e na readequação de referências culturais de negros africanos e afrobrasileiros que viveram a experiência da diáspora africana e sua inserção no sul brasileiro, no regime escravocrata e no pós abolição.
Seus introdutores, mulheres e homens na condição de cativos, libertos e também livres, trouxeram tradições de cultos de diferentes regiões do continente africano, de entre povos de língua Yorubá, da Nigéria, Benin, de Ijexá e Oyó, de entre o povos Jeje-Fon, de parte da África Ocidental da região do antigo Reino de Daomé, e dos povos Bantos, de parte de Angola, Congo, Gabão e Cabinda.
Nas condições em que foram tecendo suas relações de sociabilidade, cruzando saberes, ritos e fundamentos, e os transmitiram às suas famílias de santo, conformando as suas bacias, cada uma dessas pessoas foram desenhando os modos como essas tradições se reconheceram em Nações. Mantiveram o pertencimento enquanto Ijexá, Oyó, Cabinda e Jeje, ainda que oportunizando passagens, cruzamentos e recepção de influências umas de outras. De comum, Jeje e Cabinda absorveram a língua yorubana na prática de seus ritos, e o culto aos Orixás, pois na tradição da região de Cabinda se cultuavam Inquices e na de Jeje, Voduns.
E em cada Nação, seus introdutores trouxeram o culto da ancestralidade, a experiência da potência e força dos Orixás, transmitindo esses saberes como um modo de vida que compreende as forças divinas da natureza. Trata-se de uma circulação de conhecimentos e formas de se relacionar com o mundo, onde não há primazia do presente, dos vivos ou do humano sobre outras naturezas e sobrenaturezas. Ao contrário, inscrevem-se no presente práticas de sociabilidade, religiosidade e medicina tradicional — relações marcadas pela troca de cuidados, saberes e tecnologias. Essas transmissões não encontram equivalência nas formas ocidentais e individualizadas de ensino e aprendizagem. São baseadas no convívio: práticas que se constroem e se desdobram em um tempo compartilhado; os ensinamentos não se apoiam em livros ou formações formais, mas emergem da vivência, do testemunho e da conexão com as raízes.
O toque do tambor, fundamental na relação entre humanos e orixás, acabou sendo distintivo no reconhecimento social do nome Batuque, dando unidade entre as Nações.
São as figuras importantes da iniciação dessas tradições que deram seus legados de axé às bacias formadas.
Como Mãe Emília de Oyá Ladja, reconhecida como Princesa de família africana nobre, iniciadora de importante bacia Oyó, Pai Kojuba de Xangô, Mãe Celestrina de Oxum Docô, Pai Antoninho de Oxum, todos Oyó.
Na tradião de Ijexá, Pai Pedro de Ossanhe, vindo da Nigéria introduziu sua bacia, cujo axé foi herdado por Pai Patrício de Ossanhe, que por sua vez foi lagado a Pai Miro de Ossanhe. De outra raiz, Mãe Apolinária de Oxum, também iniciou importante bacia Ijexá.
Pai Valdemar de Xangô Kamucá, foi introdutor da Cabinda, legada a Mãe Madalena de Oxum, e posteriormente os fundamentos passados a Mãe Palmira de Oxum, Pai Romário de Oxalá, Pai Cleon de Oxalá, Mãe Quina de Yemanjá, Pai Henrique de Oxum,uma extensa relação, no tempo, entre iniciadores e herdeiros de Cabinda.
Entre a tradição Jeje, Pai João de Bará Exu Agelú Bi é reconhecido na formação de filhos, cuja Nação conta também com a chegada de Príncipe Custódio, ou Custódio Joaquim de Almeida, nobre e líder tribal de Ajudá, que introduziu bacia e fundamentos de Jeje no Rio Grande do Sul, com muita expressão política.
É sobre o legado desses Babas e Iyás que as oficinas do projeto refletiram e a transmissão de seus axés e ancestralidade.